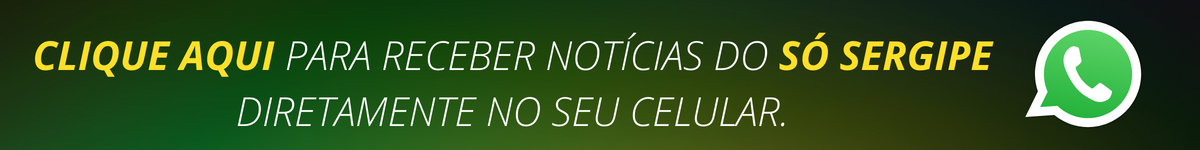Por Luciano Correia (*)
O primeiro turno das eleições em Sergipe movimentou como nunca as redes digitais com os erros e acertos que isto representa. Essa esfera pública digital cada vez mais substitui a antiga esfera, essa também já caracterizada por uma Ágora eletrônica, nas décadas em que rádio e televisão foram absolutamente hegemônicos na condução da sociedade. Do terreno concreto mesmo, só restaram as famigeradas carreatas com seus minidiscursos e a sujeira dos santinhos nas ruas no dia da votação. Todo o resto é disputa nas redes.
A mudança de patamar, do analógico para o digital, por si só não representa avanços ou recuos. Nesse aspecto, a Internet é usada para o bem e para o mal. O importante na ascensão das novas mídias é a capacidade de cada um se tornar um emissor, cada cidadão pode ser uma voz, uma TV ou algo ainda mais avançado. Isso rompe com o monopólio da era eletrônica, quando um centro emissor, sem interações ou contrapartidas, gerava conteúdo para milhões. Por outro lado, o mau uso pode representar também a desgraça desse novo espaço público digital, como, aliás, estamos acostumados a ver.
O primeiro turno em Sergipe aprofundou a banalização das pesquisas eleitorais, com cada freguês encomendando os resultados que lhe convinha, para fazer barulho com números impressionantes sobre sua pretensa superioridade. Não foi, portanto, uma “guerra das pesquisas”, mas o abuso irresponsável de um recurso legítimo e importante no processo político. Tava mais para uma guerra de fake news. Os tais institutos, pois, junto com seus partidos contratantes, foram os primeiros derrotados. Mas há um derrotado maior na primeira rodada das eleições, e esse nos é muito caro: o jornalismo propriamente dito.
Se por um lado as redes permitem que cada ator social produza suas narrativas, essa liberdade não pode abusar dos princípios que definem a produção jornalística, tão simples e objetivas que são. Se fosse assim, que continuássemos dependentes do autoproclamado “jornalismo profissional”, uma pretensão da imprensa corporativa que busca assegurar seu domínio na opinião pública vendendo uma ideia de que os outros não fazem jornalismo, mas narrativas individuais e amadoras. Jornalismo não precisa ser “profissional”, porque esse conceito carrega interesses ideológicos e comerciais camuflados. Tampouco pode ser uma construção de narrativas a serviço de partidos, chefes políticos ou grupos privados cujas mensagens desprezam a realidade e distorcem a interpretação do mundo.
Aqui se viu de tudo, anomalias como “jornalista de dados”, cientistas políticos cumprindo a missão de jagunços midiáticos a serviço de neocoronéis de uma esquerda sem discurso, analistas posicionados na folha de pagamento de candidatos se esforçando para provar que suas análises tinham um pingo de honestidade, aí sim, profissional. O resultado dessa patacoada eleitoral foi a desmoralização do sagrado direito à informação, a notícia como serviço público, o que, desgraçadamente, só confere ainda mais irrelevância a uma atividade que tem sido a maior vítima da proliferação dos canais “informativos” da Internet.
As causas dessa desgraça contemporânea são muitas, mas não trataremos disso por ora. É até compreensível que, diante desse cenário de pulverização do mercado de trabalho jornalístico, os trabalhadores da área busquem sobreviver no patamar digital se adaptando aos novos formatos. Mas a mudança do ambiente jamais deve prescindir dos princípios éticos, tão básicos e simples, que constituem os protocolos jornalísticos no mundo inteiro. O jornalismo é uma conquista do Iluminismo e graças a ele temos conseguido o equilíbrio mínimo no funcionamento do mundo moderno, fiscalizando as ações dos poderes públicos e dos agentes privados. Fazer comunicação sem observar esses critérios é mais criminoso do que o silêncio das censuras, sejam quais forem os fins e os meios.
 Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.
Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.