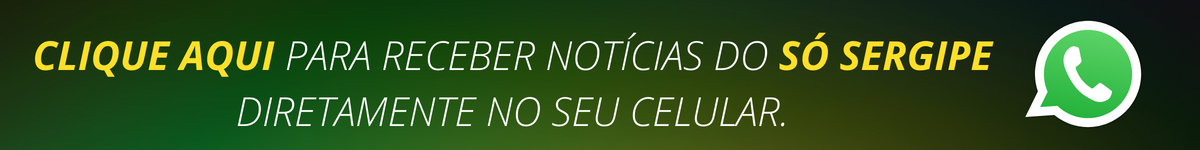Algumas coisas na vida são inevitáveis. As perdas, por exemplo. E aqui me entendam por perdas tudo aquilo que um dia vai embora de nossa vida, pelos desígnios de Deus – fica combinado aqui que Deus existe, para evitar debates desnecessários no contexto dessas mal traçadas linhas – ou por imposições outras da lógica, do bom senso, da tecnologia ou pelo simples desaforos da mulher em favor da faxina de todos os seus bens culturais adquiridos em décadas. De minha parte, cumpro o doloroso dever de dizer que chegou a hora de me desfazer das centenas de CDs, calculo em dois ou três mil, por aí, que acumulei ao longo de minha vida musicada pelas ecléticas trilhas do mundo.
A rigor, o CD estreou em minha vida em 1988. O jornalista Ivan Valença, pioneiro de traquitanas eletrônicas para cinema e música na provinciana Aracaju de então, já havia me acenado anos antes com a oferta de compra de um aparelho de videocassete, que ele importara não-sei-de-onde, um equipamento Toshiba com controle remoto por fio e que, nos seus momentos temperamentais, fazia o favor de dar choque, passar corrente elétrica para este involuntário paciente do eletrochoque dos hospitais psiquiátricos. Na conta do bruxo Ivan, fui o quarto proprietário de um VHS da nossa belacap. Com a mesma retórica reluzente, me vendeu aquele que seria um dos primeiros aparelhos de CD que desembarcaram na cidade, no ano fatídico já mencionado.
Comprado o equipamento, fui à Modinha Discos, na rua Laranjeiras, escolher meus três primeiros rebentos: Herbie Hancock, Wayne Shorter e um show ao vivo de Mercedes Sosa no estádio da Bombonera, uma das sete maravilhas da música em todos os tempos.
Fui da geração dos vinis, desde que Papai comprou nossa primeira vitrola em 1970, com um pacote de Lps que incluía Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Jerry Adriani, The Fevers e um disco instrumental da banda do Canecão executando o melhor do carnaval daqueles tempos. Devo ter empregado um importante capital de minhas mesadas na compra dos Alceus, Zé e Elba Ramalho, e coisas raras do que um dia se chamou MPB, raridades hoje calculadas em centenas de reais e que doei a um amigo muitos anos depois. Se me separei dos bolachões sem maiores culpas, assim foi com meu valioso acervo de fitas VHS, dos melhores pornôs a espetáculos em Cuba, futebol e carnaval.
Já com as fitas K-7, maior paixão de minha adolescência/juventude, não foi tão fácil. Despejei no lixo do condomínio algo em torno de 1.500 fitas, aquelas compradas em lojas ou cópias de álbuns que eu já possuía em LP ou CD. A razão é simples: as fitas são obras autorais, nas quais o ouvinte imprime seus gostos pessoais, com a novidade de gravar suas preferidas, uma curadoria musical, enfim. Para além disso, há tesouros que ninguém dá valor, mas que a mim soam caros: gravações da programação noturna das emissoras de rádio de São Paulo, Havana ou São Luís do Maranhão, lugares por onde passei com tempo suficiente para prestar atenção nas maravilhas que tocavam no rádio. Ou ainda, os emocionantes gols da minha Associação Olímpica de Itabaiana. Hoje o rádio é business e cultura pop. Pra quem gosta, excelente. Para os que buscam diversidade, acabou.
Mas, enfim, com tantas plataformas de streaming e pen drives na praça, ficou trabalhoso recorrer aos meus queridos Compact Discs. Resisti por anos porque não achava uma alma digna de entrar nessa morada musical, que para mim representa afetos e histórias, mas, como tudo na vida, o dia D chega para todos. Nessa semana, comecei a embalar meus filhos queridos, ainda me enganando com a remota possibilidade de que ficarei com alguns para ouvir no meu último aparelho de CD, uma geringonça que arranquei do meu penúltimo carro e adaptei para ouvir em casa, a peso de ouro, num malandreco de Itabaiana. Vocês imaginam o que é descartar cerca de uns 30 discos só de Caetano Veloso, outros tantos do esplendoroso Gil, mais as obras completas de Chico, com Ópera do Malandro e coisas que tais?

Depositar numa caixa de papelão do G. Barbosa as relíquias que garimpei de Tom Waits, a voz maviosa e apaixonante de Paloma San Basílio, trilha de amores cubanos na minha temporada por lá, ou os clássicos que aprendi a ouvir e gostar no programa de Petrônio Gomes: Dvorák, Carmina Burana e a Valsa dos Patinadores. Tirá-los de minha convivência de décadas e despachá-los para entrega, é como expulsar de casa o canto de Geraldo Azevedo nas noites do Clube da Sexta, no DCE da UFS, ou enxotar friamente de nossa intimidade a doçura da dupla Elza Soares/Miltinho executando um dos melhores discos da história da música brasileira.
Fiquei com pena das caixas com as obras quase completas de Ray Charles e Nat King Kole, esse cantor estupendo que conheci através de Papai. E o songbook de Dorival Caymmi, os mais de 30 exemplares da turma da Buena Vista Social Club e outros expoentes da música caribenha? Em 1998 eu caminhava pelas ruas da cidade do Porto, em Portugal, quando um som simplesmente enlouquecedor inebriou a rua e acariciou meus ouvidos. Entrei na loja e perguntei quem cantava. Era um negro americano chamado Ben Harper, mandando a comovente Suzie Blue, um desses sons que nos arrebatam pela vida inteira em fração de segundos. Comprado por uma pequena fortuna em euros, é um dos mantras sagrados que será levado para doação. Como dizia Belchior, meu coração é como um vidro. Está partido de tanta saudade.
____________
(*) Jornalista e presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).
 Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.
Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.