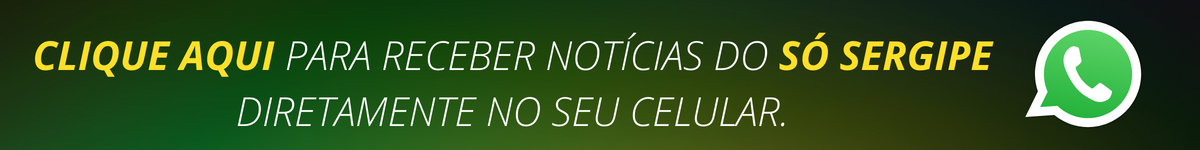Texto: Oscilene Souza
A duas mãos: com Antônio Carlos Viana e para ele
No dia em que a velha Lilita morreu, o caminho de volta pra casa foi uma condenação. Nunca esqueci. Na hora, ela botou tudo no último suspiro e se foi. Levou consigo alguma verdade. De minha feita, segui escamoteado pelo sol naquela estrada seca, a respiração travando, as lembranças vindo pela boca igual bolo de farinha…
Depois da morte de Dogue, o cachorro de estimação, a velha Lilita passou a morar sozinha. Tinha herdado do afeiçoado animal os traços: boca saliente, olhos de avestruz, rosto esguichado. Vestia sempre estampas florais de tecidos esvoaçantes. Gostava de sentir o vento roçando os bicos dos peitos. A outra parte, de tão rasa, dispensava utensílios. Mulher mais alta nunca se tinha visto. Olhava fixamente para as pessoas, como se quisesse ser notada mais do que o devido. Os cabelos, na altura dos quadris, eram-lhe motivo de orgulho. Ainda os conservava macios e os lavava com o xampu do finado amigo. Dava certo. Contavam que tinha vindo morar na rua depois que enviuvou, que tinha sido vendida, muito novinha, pra casamento, pra um velhote de munheca quebrada. Infelizmente, ou felizmente, o marido só ficou vivo uns poucos anos. Na cidade, atendia a todos com extrema felicidade. “De tristeza ninguém precisa falar”, repetia. Sábia, se resguardava de assuntos que lhe corroíam a carne. Devia ter um machucado que não sangrava. Minha mãe dizia que toda ferida tinha de sangrar pra o mal sair. E nessa falta de si, cuidava dos males daquela gente. Assim é que, nos fundos da casa de três cômodos, tinha remédio pra tudo, até pra tuberculose. Ela só não cuidava era de leproso. Proclamava que era praga de pessoa condenada a ir pro inferno. E, com gente dessa envergadura, a velha Lilita não mexia. Nas consultas feitas por caridade, não deixava a casa do enfermo sem repassar a lista do resguardo. “Não pode passar debaixo de rede”. “Cruzar linha de ferro, nem pensar!”
“Se benzeu as pernas do outro, tem de voltar pra desbenzer”. Era muito supersticiosa. Tinha medo de tanta coisa. Com os meninos, a conversa era outra. A molecada segredava que a velha Lilita dava uma comichão que nenhum sabia explicar. De nós cinco, o mais esperto e o mais velho era Caroço. Das muitas conversas, tinha uma que a gente resguardava. De manhã, depois de aguentar a voz de pássaro do professor Arlindo, a gente se juntava no Beco de Trás. Cada um querendo mostrar o que já podia fazer. A brincadeira mais animada era a de empinar. A mando de Caroço, a gente botava o pirulito de sete centímetros pra fora do calção e deixava o elástico grudadinho no saco, que começava a pesar naquela época, a camisa de botão cobrindo apenas até o umbigo. E somente isso dava um gozo na gente. A ordem era correr e enfiar o pinto no buraquinho da parede da casa derrubada. Do outro lado da parede, quem tapava o buraco com a bunda tinha de abaixar o elástico e rebolar, dando o sinal quando a cabecinha roçava.
Não podia fazer corpo mole, tinha de empinar pra valer. Como eu tinha medo, Caroço me deixava de vigia, pra acaso viesse alguém. Se algum falhava, travando um choro de machucado com o sangue escorrendo, Caroço soltava um “Descola, veado”. O que fizesse três pontos ganhava umas baforadas do perfume de Rosa, do frasco que Caroço carregou da casa dela, a mulher-dama mais afamada da cidade. No beco, quando soavam os estampidos da vitória, Rineu Banguela, querendo mostrar resultado, vinha pra cima de mim. Eu, fugindo sempre. Em uma das poucas vezes que tentei o vazio da parede, Neco gritou um “Tenha fé, meu filho!” Tem gente que mete Deus em tudo. Nunca entendi. Naqueles tempos, do que ninguém podia duvidar era o tamanho da fé da velha Lilita. Deus, pra ela, era maior que tudo. Em contrapartida, nas andanças de rua- abaixo-rua-acima, um vazio lhe ruminava. Nunca conhecera um amor, uma paixão de esquecer tudo, de abandonar os seus. Remoendo esses agravos, cruzou a linha de trem que nem se deu conta da gosma no solado da alpercata quando se esbarrou na melação. Estancou ali, com a carniça pegajosa esparramada em um jornal velho, que lhe reverberou a estampa de um homem de meia idade.
Arriou-se então nas pernas finas e soletrou a fétida notícia: “Morre-o-prefeito-de-Boa-Ventura”. Olhou bem as fotos. Em uma, o desconhecido sorria simplesmente, em outra, acenava não se sabe pra quem. Tinha feições tão misteriosas! A velha Lilita soltou aquele sorriso desviado, rasgou o jornal no lugar acertado e abraçou-se à foto, se esvaindo de gosto. O vento soprava que nessa hora. Queimava de desejo. Dessa vez, voltou pra casa sem cumprir as visitas prometidas. Tinha de se preparar. Nessa noite, tomou banho quente. Sobre a cama, a longa camisola branca de jérsei que hoje lhe descobria os tornozelos. Enfim. Não engordara depois dos doze anos. Usou a única água de cheiro que possuía. Presente de uma empregada do hospital. Na hora de deitar, espremeu-se toda para dar espaço aos sonhos. “Gosta?!” perguntou timidamente, passando a mão nas dobras do pescoço encharcado de colônia. O colchão de palha não ajudou, fedia a mofo. Difícil mesmo foi perder a privacidade no tempo em que tudo se esconde.
A velha Lilita passou então a se trocar debaixo de um lençol. O banho era agachada. Tinha vergonha de ser surpreendida no banheiro sem porta. Houve dias em que deixou de se limpar. Tudo para proteger a integridade de mulher honesta. O mais sentido era quando não tinha carne pra servir à mesa. Nesses dias, teve mais gosto em não comer. Às vezes, nem dormia. A vida agora era-lhe uma eternidade. Até que veio a recordação do finado. Não demorou e caiu doente. Parecia mesmo triste. Ausente das serventias, a cidade deu por falta das rezas. E as moléstias batendo na porta do povo feito praga do Egito. Não deu muito e a notícia se espalhou: “A velha Lilita está nas últimas!” Foram chamar padre Inácio, que era um homem muito desconfiado. Com muita adulação e promessa jurada, o sacerdote acatou ao pedido do suplicante. O corajoso foi Tonho Lelé, meu amigo de bola de gude. Nas horas da morte, Deus perdoa tudo. Curioso que eu era, quando soube que padre Inácio ia dar a extrema-unção da moça corri pra ver. A fama maior do padre era essa cerimônia, que ele fazia de um jeito todo seu: em latim e cantada. Nos assuntos da igreja, Padre Inácio era muito sério; inventava era coisa pra render os fiéis. Eu achava uma emoção sem fim aquela cantoria toda e o doente revirando os olhos, o resto sem se mexer. Tentava aprender umas palavras, em que o pároco mudava algumas e me confundia. Dessa vez, entendi o “mea culpa” e “mea maxima culpa”. Na rua, as outras maldiziam que a velha Lilita estava condenada porque deixou de cumprir com as obrigações. “Não pense ela que chumbregar com egum seja coisa boa”. Ou, “Deixe que o castigo vem, pecadora, engolidora de serpente.” A verdade é que fui cumprir a incumbência na intenção de descobrir certo paradeiro. Nos casos que ouvia, quando a morte manda chamar, quem já foi, vem buscar a gente. Pra minha decepção, no quartinho, não vi ninguém além do padre e da moribunda, que agora enxerguei mais velha e mais magra do que antes. Justamente naquela hora, vendo a casa naquela inhaca de coveiro, nem sei por que me lembrei de Rosa, a puta que chupava Caroço. Mas como se fosse pra tirar a solidão da morte, logo, logo, o povo foi embocando porta-adentro-porta-afora, e o lugar inteiro se multiplicou daquela gente. Pra completar a desgraça, na calçada, o doido Berroso cantava a ecos o sucesso da época:
“Eu sou o seu sacrifício”, “e as juras de maldição”. Saí dali com a certeza de que a vida seria cruel pra todo mundo alguma vez na vida. Com o que me reviro mais de lembrar, é da velha Lilita esticada na cama com os braços abertos. Dava a entender que a tinham pregado numa cruz. As beatas invejosas começaram a mexericar que ela morreu desse jeito pedindo perdão. “Repara, nem deu tempo de fechar a boca, a miserável!” Conjuraram ainda umas façanhas da defunta que menino da minha idade não podia escutar, e que o finado marido só comprou ela pra casar porque gostava de mulher de boca grande. Foi aí que pensei no beco. Quando vi, uma força sacolejava fundo em mim igual filhote de nambu quebrando a casca do ovo. Corri pra os fundos da casa, quase me engasgando com os pulos que o coração dava. Fiquei lá, e dei adeus à imagem de Rineu Banguela babando, se abrindo todo pra mim. Agora, tinha somente o êxtase da boca de caverna da velha Lilita, que se confundia com a gravura pregada na parede. Era o quadro de uma santa de lábios tortos, deitada sobre umas pedras igual lagarta, com um anjo apontando uma flecha pra ela. Sucumbido pela brevidade das coisas, fechei a braguilha do xorte. Decidi ir até a sala ver se alguém tinha servido algo pra comer. Peguei uns biscoitos que tinham acabado de colocar em um prato de plástico. Comi e deitei na poltrona, sentindo os rasgos da napa e o facho de sol entrando naquela casa escura. Devia ser um espírito de luz pedindo passagem, procurando alma boa. Na frente da casa, escanchados no parapeito da única janela que cabia ali, Rineu e os outros apalpavam o caroço do calção, maldando as meninas que passavam e já tinham peitinho pra ser amassado. Do lado de fora, senti o sertão de dezembro relampejando no ar. Aquele enterro ia arder. Imaginei o corpo quente da velha Lilita dentro da terra fria. Ia virar lama quando chovesse. Finalmente, ninguém mais se ocupou da defunta, que estava vestida de branco por ela mesma. Eu, sendo amiga da morta, botava nela um vestido cheio de flor. A velha Lilita ia gostar, porque aquela camisola branca foi-lhe um suplício.
 Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.
Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.