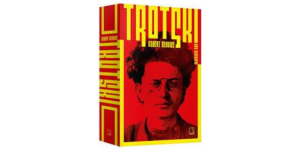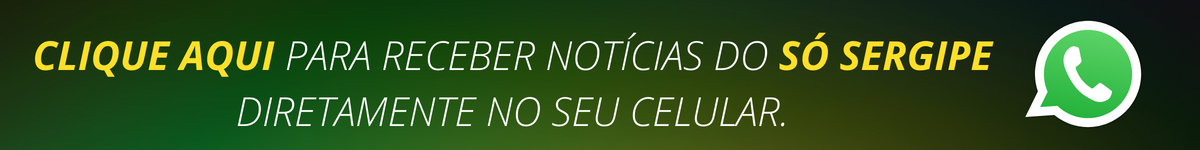Garrafas ao mar, cantava João Bosco num dos melhores discos da MPB. Por elas e pelas águas onde rolaram correram muitas histórias, de amor aos negócios, de guerras e conquistas. O mar foi a primeira grande free way do mundo, autobans lineares, sem buracos nem pedágio, sem barreiras de fronteiras, pelo contrário, ligando mundos distintos e remotos. Os portugueses foram grandes dominadores de suas regras e mistérios, que legaram ao país dos patrícios um império e a extensão de seus tentáculos para vários continentes. E fez a primeira grande operação da globalização, trocando culturas e comidas, modos de ver e falar, de sorrir e cantar, de construir e destruir.
Essa lembrança do mar, como estrada primeira da globalização, sempre me assalta nas caminhadas que faço há mais de três décadas, como contei na coluna passada, desde que decidi vir morar ouvindo seu marulho. E os motivos são os mais prosaicos, pois que a partir de coisas trazidas de outros cantos, quinquilharias as mais curiosas, desde embalagens de sorvetes, refrigerantes, belas garrafas de uísque, latas de iguarias que mais parecem obras de arte. Os objetos navegam mares distantes e trazem notícias de lá, de culturas distintas, seus utensílios e modos de lidar com a arte de viver.
Em minhas caminhadas há mensagens de terras do Oriente, com seus desenhos mágicos que devem conter expressões como “modo de usar” ou “consumir em até 48 horas”, banalidades que tais, para meus olhos de criança curiosa, soam como poesia concreta, modernismos gráficos de gentes mais desenvolvidas. Mas chegam tesouros páticos, que têm muita serventia para os que precisam e até para quem não se acha, como eu, que já levei baldes, tablados de madeira e vasilhames que minha mulher trata de jogá-los no lixo, tão logo eu desapareça de sua vista.
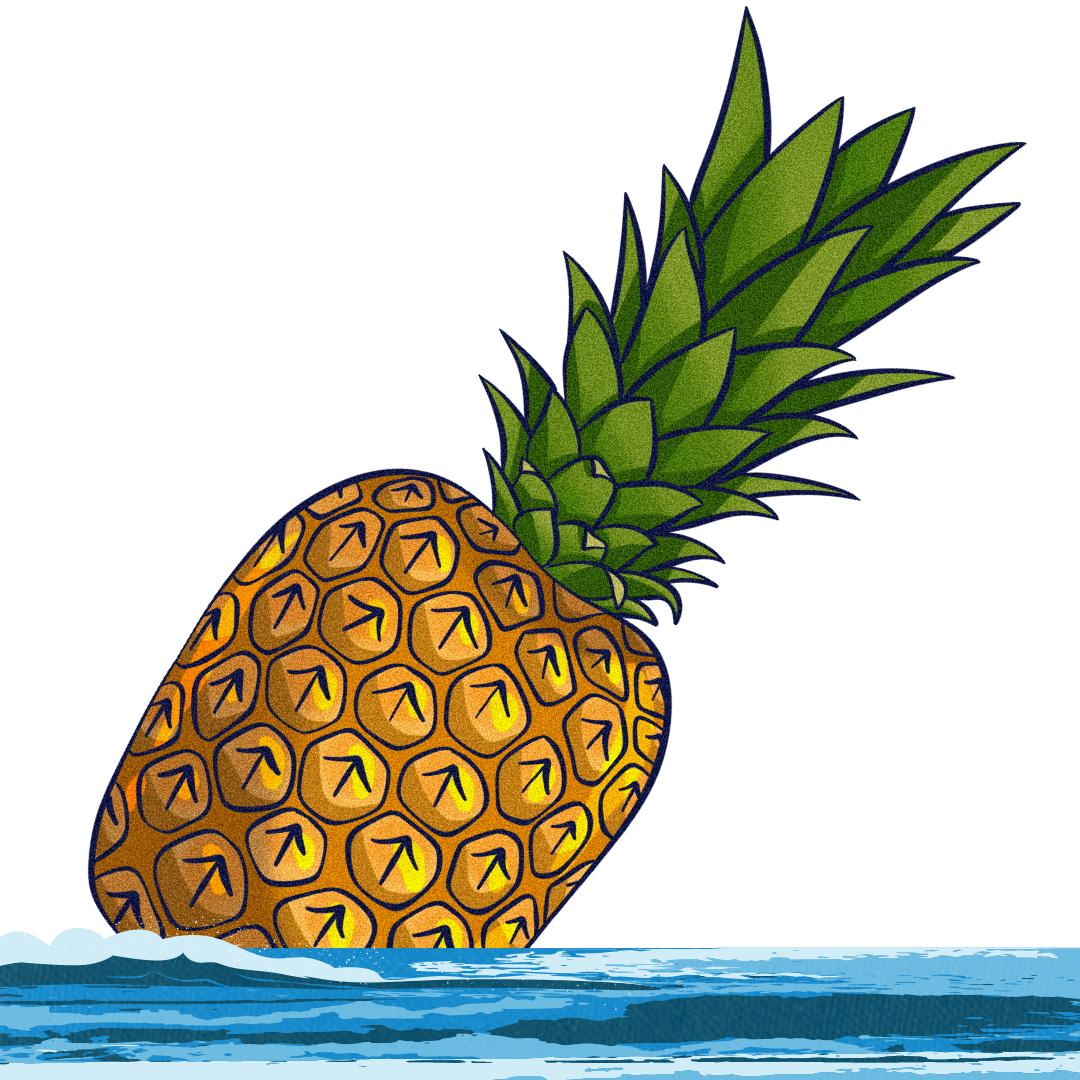 Além de coisas largadas por navios, há também pedaços mesmo de embarcações, como gradeados de madeira, suportes e caixões mais pesados, sempre úteis a qualquer ser humano que professa a fé de que “quem guarda o que não presta, sempre tem o que precisa”. Nesse inventário de tolices, não vale citar o ramerrão, o lixo trivial que carimba nossa má educação por esses nossos litorais. Cascas de laranja, abacaxis inteiros, tomates e melancias dão na praia sem que a gente saiba, neste caso, se são frutos da incúria local, nacional ou internacional.
Além de coisas largadas por navios, há também pedaços mesmo de embarcações, como gradeados de madeira, suportes e caixões mais pesados, sempre úteis a qualquer ser humano que professa a fé de que “quem guarda o que não presta, sempre tem o que precisa”. Nesse inventário de tolices, não vale citar o ramerrão, o lixo trivial que carimba nossa má educação por esses nossos litorais. Cascas de laranja, abacaxis inteiros, tomates e melancias dão na praia sem que a gente saiba, neste caso, se são frutos da incúria local, nacional ou internacional.
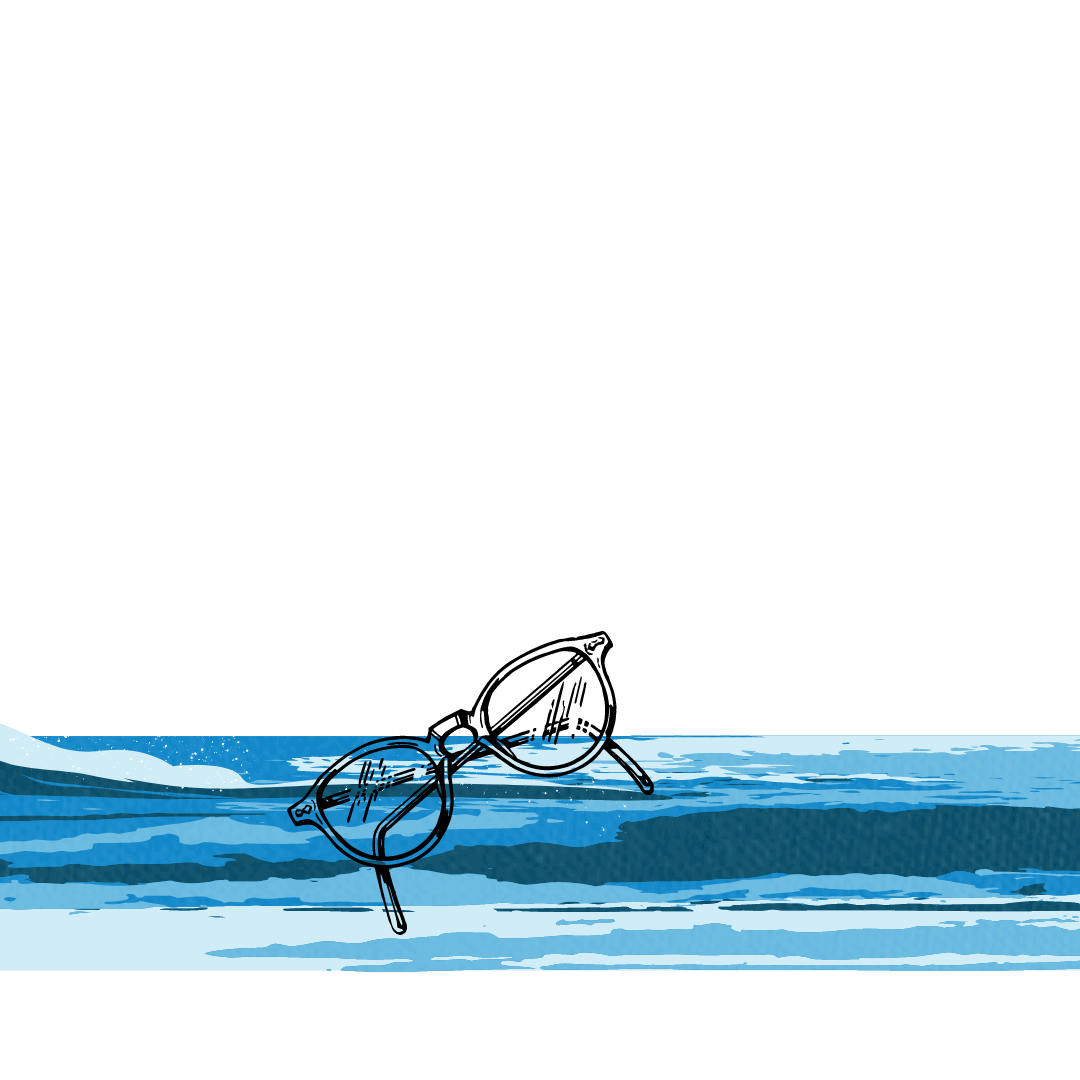 Assim, excluam de minha lista essa basura sem aura nenhuma, embora, vá lá, já topei com tantos alimentos que dariam poderosas sopas ou sortidos cozidos. Óculos de grau, então, já apanhei dezenas, alguns entregues a meu amigo Mané Veneno, que usa em desfiles pelas ruas do seu amado conjunto Augusto Franco. Me refiro aqui a peças que carregam em si algumas histórias mais fortes ou simbólicas, algo que ensejam o culto à Yemanjá ou a uma noite de amor febril, deixando, no primeiro caso, frasquinhos cheirosos de alfazema ou, no segundo, calcinhas abandonadas a propósito de uma fuga ligeira. Quantas mulheres lindas já imaginei ao topar com essas provas do sexo rápido entre, possivelmente, dois fortuitos amantes!?
Assim, excluam de minha lista essa basura sem aura nenhuma, embora, vá lá, já topei com tantos alimentos que dariam poderosas sopas ou sortidos cozidos. Óculos de grau, então, já apanhei dezenas, alguns entregues a meu amigo Mané Veneno, que usa em desfiles pelas ruas do seu amado conjunto Augusto Franco. Me refiro aqui a peças que carregam em si algumas histórias mais fortes ou simbólicas, algo que ensejam o culto à Yemanjá ou a uma noite de amor febril, deixando, no primeiro caso, frasquinhos cheirosos de alfazema ou, no segundo, calcinhas abandonadas a propósito de uma fuga ligeira. Quantas mulheres lindas já imaginei ao topar com essas provas do sexo rápido entre, possivelmente, dois fortuitos amantes!?
Se as montanhas encontradas na areia diariamente são, para a limpeza pública, a mesma matéria que abarrota os carros da empresa coletora, medida em toneladas e reais, para mim passa por esse filtro prévio, essa curadoria muito particular que representa meu olhar sobre o que o mar quer dizer com cada tralha que aporta no meu pequeno pedaço que me cabe.
____________
(*) Jornalista e presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).
 Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.
Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.