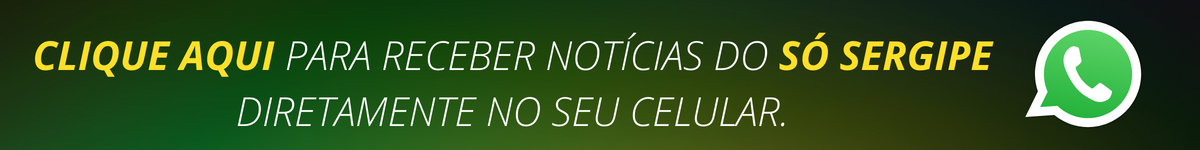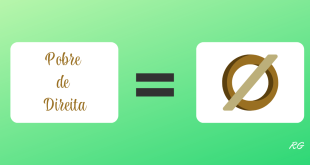Por Emerson Sousa (*)
Em 2018, o bloco de partidos formado por PCdoB, PDT, PSB, PSOL e PT lançou 1.589 candidatos a deputado federal em todo o país, que obtiveram algo em torno de 21 milhões de votos nominais, ou seja, dados a um candidato ou candidata em específico. Considerados como partidos à esquerda no espectro político brasileiro, eles tiveram, nesse mesmo ano, o seu pior desempenho para a Câmara dos Deputados desde 1998.
Apenas para se ter uma ideia do que isso representa: o Partido Social Liberal (PSL), antiga agremiação do presidente Jair Bolsonaro, com 464 candidatos, conseguiu amealhar metade desse montante de votos. Por sinal, tão somente seis concorrentes de vários partidos, dentre os dez demais votados no país, que são assumidamente de direita, conseguiram 4,6 milhões de votos.
No entanto, esse não é um fenômeno recente. Desde que os pleitos ganharam feições de eleições gerais, em 1994, o referido bloco partidário nunca conseguiu superar a marca de 30 milhões de votos nominais em seus candidatos e nunca deteve uma bancada de parlamentares que lhes permitisse, ao menos, o mínimo necessário de assinaturas para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que é de 171 deputados.

Foto: Agência Brasil
Paradoxalmente, nesse mesmo período, o principal membro desse grupo, o Partido dos Trabalhadores (PT), conseguiu quatro vitórias consecutivas em eleições presidenciais. Contudo, essas vitórias precisam ser melhor qualificadas.
Primeiro, em nenhuma delas a conquista foi em primeiro turno, como acontecera com o PSDB, em 1994 e 1998. Depois, de 2006 em diante, a cada eleição o volume de votos obtidos por seus candidatos se reduzia em relação à eleição anterior.
Nesse último ano, o presidente Lula foi reeleito com 58,3 milhões de votos, o que representou 60,8% dos votos válidos no segundo turno. Já em 2010, a presidente Dilma arregimentou 55,7 milhões de votos (56% dos votos válidos). Quatro anos depois, ela lançou-se para um segundo mandato e venceu com 54,5 milhões de votos, ou seja, 51,6% dos votos válidos.
Entretanto, se o presidente Lula venceu o ex-governador José Serra, em 2002, com uma vantagem de 19,5 milhões de votos no segundo turno; em 2014, a presidenta Roussef bateu o também ex-governador Aécio Neves por uma diferença de apenas 3,5 milhões de votos.
Em 2018, o cenário foi pior ainda. O candidato petista, o ex-prefeito Fernando Haddad, foi vencido, em segundo turno, por um deputado do “baixo clero” por um hiato de mais de 10 milhões de votos.
Mais do que um simples caso de “fadiga de material”, esses números podem ser interpretados da seguinte forma: o eleitor brasileiro é conservador e tem uma preferência por candidatos de direita, e esse é um processo que vem se agudizando com o tempo.
 Não por acaso que, se em 1986, 1990 e 1998, Lula da Silva, José Serra e José Genoíno foram, respectivamente, os candidatos mais votados do país para o cargo de deputado federal, de 2002 em diante, esse posto vem sendo ocupado por figuras como Enéas Carneiro, Tiririca, Paulo Maluf, Celso Russomano e, mais recentemente, o Eduardo Bolsonaro.
Não por acaso que, se em 1986, 1990 e 1998, Lula da Silva, José Serra e José Genoíno foram, respectivamente, os candidatos mais votados do país para o cargo de deputado federal, de 2002 em diante, esse posto vem sendo ocupado por figuras como Enéas Carneiro, Tiririca, Paulo Maluf, Celso Russomano e, mais recentemente, o Eduardo Bolsonaro.
Alguém pode até aventar a possibilidade de que essa conduta não seja “direitismo”, apenas reflexo de uma pretensa revolta com o ambiente político. Mas essa abordagem não se sustenta. Afinal, despolitização e comportamento apolítico são expressões da visão de direita, dado que elas não têm compromisso com a mudança do status quo.
Também pode se alegar que foi o “discurso anticorrupção” que detonou esse processo, o que faz sentido. No entanto, o esvaziamento do Partido dos Trabalhadores (PT) não foi sucedido por um proporcional aumento de siglas mais à esquerda que estavam fora do governo e que lhe faziam oposição. Pelo contrário, foi para organizações que estavam à direita do PSDB, do MDB e do Democratas.

Isso é um problema porque tal opção política pode inviabilizar seriamente a evolução socioeconômica do Brasil. O que sustenta esse argumento é o fato de que, segundo o filósofo italiano Norberto Bobbio, o combate às desigualdades sociais não faz parte do cardápio de interesses da direita política e o Brasil é um dos mais injustos países do mundo.
O sinal passado pelo brasileiro é o de que ele vem abandonando a ideia de que o desenvolvimento social é fruto da implementação de ostensivas formas de políticas públicas. O que se depreende de suas ações eleitorais é de que ele crê mais no mercado como coordenador das relações sociais de produção do que na Política.
Esse voto sistemático na direita – que é confeitado com uma série de determinantes de caráter local – mostra que o brasileiro vem, paulatinamente, transferindo a sua fé para suas orações e para os boletos pagos e que prefere assumir o papel de consumidor ao de cidadão.
Foi essa opção pela direita que pavimentou a aprovação de medidas tais como a Emenda Constitucional 95, que cria um teto para os gastos públicos, a Reforma Trabalhista, que acelera o processo de precarização do mercado de trabalho e, mais recentemente, a Reforma da Previdência, que dispensa maiores comentários.
Resumidamente, o brasileiro vem votando para destruir todo o seu sistema de proteção social!
Com isso, a tendência é a de que a nossa iníqua estrutura de concentração de renda venha a se manter, isso se não for ampliada. A causa disso advém do fato de que as relações mercado são caraterizadas pela teoria econômica como excludentes e rivais, traduzindo-se em miúdos: “quem não paga, não leva!”. Ou seja, um amplo segmento de nossa sociedade vai ficar socialmente desamparado, coisa que já vem ocorrendo na concessão de benefícios da Seguridade Social.
Em suma, o voto do brasileiro, por mais que ele diga o contrário, mostra que ele perdeu a perspectiva de construção de uma nação solidária e esse é um fenômeno que, tendo origens em nosso autoritário processo histórico, precisa ser mais estudado e analisado, porque depende da sua compreensão a sua necessária superação e a edificação de um país melhor.
(*) Emerson Sousa é Mestre em Economia pelo NUPEC/UFS e doutorando em Administração pelo NPGA/UFBA
 Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.
Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.