Por Luciano Correia (*)
Ariano Suassuna gostava de contar uma história sobre um velho contador de causos, desses que tiram leite de pedra pra não perder o centro das atenções. De qualquer coisa ele puxava assunto. E quando não havia assunto, ele inventava. Certa vez, do nada, no meio de uma sala cheia, ele perguntou: “Eitha, vocês ouviram um tiro?”. Evidente que ninguém ouviu nada. Mas era o suficiente pra ele começar uma nova história: “Pois é, por falar em tiro…” E disparava suas lorotas sem fim. Não sei porque, mas essa história me levou a uma fake news que circulou em Sergipe nos últimos dias, a propósito de um ciclone que ora varre campos e cidades do Rio Grande do Sul, com estragos minimizados, felizmente.
 O ciclone gaúcho, de verdade, assanhou as mentes férteis e desocupadas locais que vivem desse expediente de espalhar mentiras, não só as inofensivas, mas as que implicam em danos coletivos, mesmo que apenas psicológicos. Se o tiro do loroteiro de Ariano me fez lembrar do ciclone sergipano, a lenda daqui me remeteu a um outro ciclone, este verdadeiro, que vivenciei em Cuba em 1989, nos três meses em que vivi na ilha. Éramos 17 colegas de vários países do mundo, alunos de uma Especialização em Economia e Relações Internacionais na Universidade de Havana.
O ciclone gaúcho, de verdade, assanhou as mentes férteis e desocupadas locais que vivem desse expediente de espalhar mentiras, não só as inofensivas, mas as que implicam em danos coletivos, mesmo que apenas psicológicos. Se o tiro do loroteiro de Ariano me fez lembrar do ciclone sergipano, a lenda daqui me remeteu a um outro ciclone, este verdadeiro, que vivenciei em Cuba em 1989, nos três meses em que vivi na ilha. Éramos 17 colegas de vários países do mundo, alunos de uma Especialização em Economia e Relações Internacionais na Universidade de Havana.
Por uma série de acasos, e de uma longa história da qual vou poupá-los, porque não sou o velho do tiro, fomos parar no glamoroso Hotel Nacional, na época sem o glamour de outros tempos. Já no final do período, com as aulas encerradas e cada um cuidando de suas monografias, correu o boato na turma: “Um furacão tá chegando em Cuba amanhã”. Era uma meia verdade, pois afinal chegou, mas não um furacão, e sim um ciclone, que é uma versão mais moderada do mesmo fenômeno meteorológico. Lembro que ficamos três dias ininterruptos com uma espécie de ventilador frio ligado em toda Havana, cidade quente e úmida, que, naqueles dias, nos brindou com um clima temperado e agradável. Só não precisava de tanto vento, é verdade.
Faço graça com o meu ciclone habanero porque, de fato, não lembro de maiores danos. Até porque a região era acostumada com coisa mais grossa, não ia se abalar com três dias de ventania acelerada. Mas um moleque nordestino que só conhecia, até então, os redemoinhos que às vezes irrompiam em nossas peladas nos campinhos de areia, foi um fenômeno. Lembro ainda que o quarto em que estava morando, virando para o Malecón, recebia toda a brisa do Golfo do México, turbinada pela energia do tal ciclone. Um buraquinho na vidraça do apartamento cuidou de fazer soprar o vento nas 24 horas dos três dias, fazendo um assovio em uma nota só, para eu jamais esquecer a melodia dos ciclones.
Dito isso, hão de me perguntar: e essa foto sem camisa, escrevendo, bebendo e fumando, o que tem a ver? Então, diante da necessidade de terminar a monografia, aproveitei para passar meus dias de ciclone trancado no quarto do hotel, avançando no texto, fumando um cigarro cubano sem filtro que na época me apetecia, e mordendo um rum Bucanero, mais barato do que a Havana Club. A foto é como a história do velho de Ariano: por falar em tiro…
 Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.
Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.














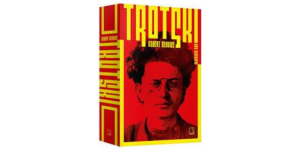

















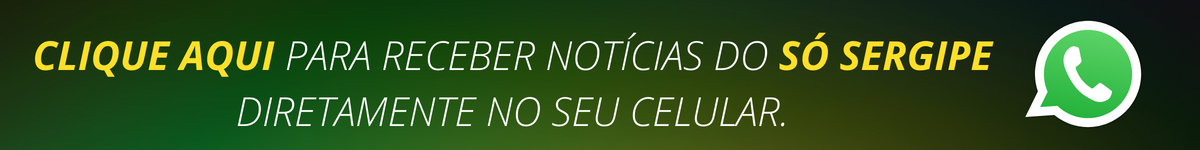





Narrativa lúcida, folclórica e bem humorada…
Muito bom!