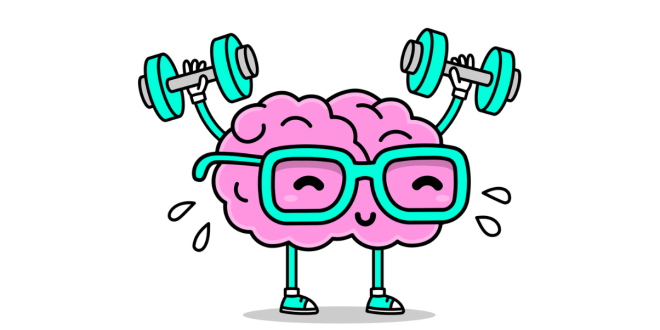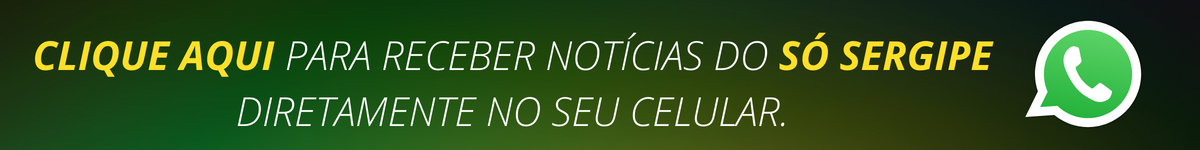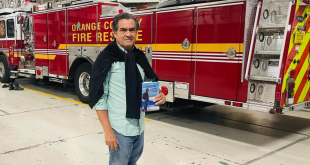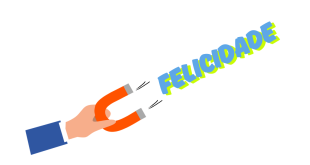Por Luiz Thadeu Nunes e Silva (*)
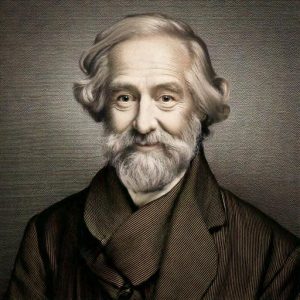
A tragédia desse cenário reside no fato de que a cultura do artificial não apenas empobrece o discurso coletivo, mas, também, aniquila a capacidade de reflexão individual. Quem se acostuma a consumir pensamentos prontos perde gradualmente a aptidão de pensar por si mesmo. O intelecto se atrofia quando não é exercitado, e a autenticidade se perde quando se opta pelo caminho fácil da repetição acrítica.
Diante desse panorama, a única resistência possível é o resgate da profundidade. A valorização do pensamento original, a recusa aos clichês, o cultivo da inquietação filosófica e a coragem de desconfiar das aparências são atos de insurgência contra a ditadura do efêmero. Não se trata de desprezar a estética — pois a beleza, quando verdadeira, possui seu valor — , mas de rejeitar sua supremacia sobre a verdade.
Mais preocupante ainda é a aceitação passiva das aparências em detrimento do conteúdo. Se o homem moderno adquire a embalagem sem se importar com o que há dentro, é porque foi treinado a valorizar o espetáculo, a acreditar que o brilho da superfície equivale à qualidade intrínseca. Esse fenômeno está em todas as esferas: na política, onde discursos vazios conquistam multidões; na arte, onde a forma se sobrepõe ao significado; na vida cotidiana, onde as relações interpessoais se tornam transações de imagens projetadas, e não de essências compartilhadas. Tudo é líquido. É disso que fala o filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman.
O mundo contemporâneo é uma vitrine de inutilidades que encantam mentes vazias.
A escolha pela superficialidade não é apenas um sintoma de preguiça intelectual, mas um reflexo de uma sociedade que privilegia o efêmero em detrimento do permanente. Há uma lógica de mercado por trás dessa inversão de valores: o pensamento exige esforço, enquanto a aparência se adquire com rapidez; a autenticidade requer introspecção, mas a imitação se obtém sem custos existenciais. Assim, enquanto o pensamento demanda um labor contínuo de refinamento e expansão, a estética da superfície é de consumo imediato, descartável e facilmente moldável conforme as tendências do momento.
 Vivemos em uma era marcada pelo império das aparências, onde a imagem muitas vezes suplanta a substância, e o verniz da aparência se impõe como substituto da profundidade intelectual. Na cultura contemporânea, tornou-se mais fácil maquiar a superfície do que elevar a qualidade do pensamento; mais cômodo repetir frases feitas do que articular ideias próprias; mais sedutor adquirir a embalagem do que examinar o conteúdo. Esse fenômeno, longe de ser um traço isolado da modernidade, reflete uma inquietação filosófica antiga: a luta entre o ser e o parecer, entre a verdade interior e as máscaras que se vestem para o mundo.
Vivemos em uma era marcada pelo império das aparências, onde a imagem muitas vezes suplanta a substância, e o verniz da aparência se impõe como substituto da profundidade intelectual. Na cultura contemporânea, tornou-se mais fácil maquiar a superfície do que elevar a qualidade do pensamento; mais cômodo repetir frases feitas do que articular ideias próprias; mais sedutor adquirir a embalagem do que examinar o conteúdo. Esse fenômeno, longe de ser um traço isolado da modernidade, reflete uma inquietação filosófica antiga: a luta entre o ser e o parecer, entre a verdade interior e as máscaras que se vestem para o mundo.
A filosofia clássica já apontava para esse dilema. Platão, em sua crítica aos sofistas, denunciava aqueles que, ao invés de buscar a verdade, dedicavam-se à arte da persuasão vazia, encantando os incautos com discursos pomposos, porém destituídos de substância. Nos dias atuais, os sofistas não empunham pensamentos, mas dogmas; não argumentam, apenas reproduzem. No lugar da dialética, temos a retórica oca das redes sociais, onde a repetição de fórmulas pré-fabricadas substitui a construção genuína do saber.
Diante desse panorama, a única resistência possível é o resgate da profundidade. A valorização do pensamento original, a recusa aos clichês, o cultivo da inquietação filosófica e a coragem de desconfiar das aparências são atos de insurgência contra a ditadura do efêmero. Não se trata de desprezar a estética – pois a beleza, quando verdadeira, possui seu valor – mas de rejeitar sua supremacia sobre a verdade.
A vida é feita de escolhas e consequências, cabe a cada um escolher: ser eco ou voz; reflexo ou chama; embalagem ou conteúdo.
 Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.
Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.